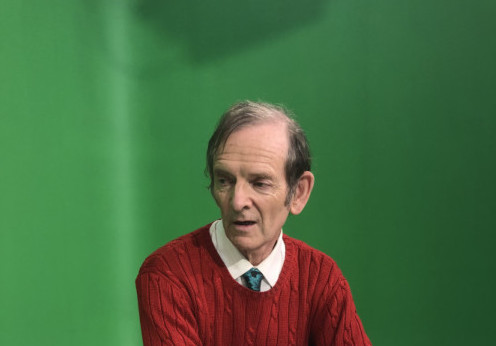Mark O’Neill revisita uma carreira de quatro décadas como jornalista e escritor na Grande China. Fala das transformações que testemunhou e do seu interesse crescente pela História da China.
Chegou a Hong Kong, oriundo de Londres, em 1978, ano em que Deng Xiaoping lançava o plano de reformas económicas na China continental.
Nos 40 anos seguintes assistiu a mudanças extraordinárias na região, como jornalista em Hong Kong Pequim e Tóquio, onde trabalhou para a RTHK, Reuters e South China Morning Post. Na última década, passou a dedicar uma boa parte do seu tempo à escrita de livros sobre a História da China. O’Neill é autor de oito livros em inglês, cinco dos quais também publicados em chinês.
– Está sediado na região há 40 anos. Assistiu a transformações enormes. Conte-nos como era a vida aqui no final dos anos 1970?
Mark O’Neill – Considero-me um sortudo porque, durante a minha vida enquanto jornalista, assisti à transformação da China de um país pobre socialista para o que é hoje – a segunda maior economia do mundo e uma economia capitalista. Esta transformação aconteceu num período de tempo muito reduzido. A transformação que levou um século ou 150 anos a países na Europa, a China fê-la num período muito curto de tempo. Eu, tu e outros jornalistas somos uns felizardos por assistirmos a esta mudança fantástica.
– Esteve primeiro em Hong Kong e depois em Pequim. Gostava que nos contasse como é que era Pequim nos anos 80?
M.O. – Chegámos em 1985, e quero partilhar algumas histórias que mostram a transformação do país. Quando cheguei a Pequim havia uma loja que se chamava Loja da Amizade (Friendship Store, em inglês), onde só os estrangeiros podiam comprar produtos [pagos em Foreign Exchange Certificate, FEC]. Os chineses não estavam autorizados a entrar na loja, que vendia sobretudo produtos importados. Os nossos amigos chineses queriam comprar televisões, rádios ou máquinas de arroz japonesas, eu ia à loja, comprava e pagava em FEC’s e eles davam-me renmimbis. Todos os dias havia chineses à porta que olhavam para nós enquanto comprávamos coisas e, claro, não estavam felizes. Questionavam-se: “porque é que na nossa capital, apenas os estrangeiros podem entrar e comprar coisas que nós chineses também gostávamos de comprar?” Agora, vamos adiantar o relógio 30 anos. Eu e a minha mulher, que é de Hong Kong, estávamos em Paris. Estávamos nas Galeries Lafayette. Entrámos pela porta principal e dois funcionários vieram logo ter connosco. Acha que se dirigiram a quem? Acha que falaram comigo ou com a minha mulher?
– Com a sua mulher que é asiática, certo?
M.O. – Sim. A mim ninguém me deu atenção.
– Depois das reformas levadas a cabo por Deng Xiaoping, sentiu que o processo de abertura, por exemplo ao nível económico, já estava a tomar forma?
M.O. – Chegámos em 1985, apenas sete anos depois da terceira sessão plenária do 11o Comité Central do Partido Comunista da China (PCC), um encontro chave que marca o início do processo das grandes reformas. Por isso, já tinham começado, mas de forma muito lenta. Dou um exemplo. Os negócios privados na altura eram muito limitados e bastante perigosos. Ninguém sabia até que ponto o Partido permitiria que os negócios crescessem. Uma vez fomos a um restaurante de noodles pequeno que tinha aberto como restaurante privado. Quando entrevistámos o dono, perguntámos-lhe que tipo de produtos vendia, que tipo de negócios esperava fazer e a pergunta central era se achava que o negócio teria futuro e se o partido permitiria que mantivesse o restaurante. Respondeu que acreditava no partido, que assumia o risco e que estava confiante no futuro. Foi uma grande história na altura. Claro que agora parece ridícula porque há empresas privadas como a Alibaba, com receitas de milhares de milhões de dólares e com negócios no mundo inteiro.
– Como foi a sua experiência, enquanto jornalista e cidadão, durante o período de abril e junho de 1989, quando decorreram os protestos de Tiananmen?
M.O. – Foi o evento mais extraordinário a que assisti. A transformação da China é um acontecimento ainda mais fantástico, mas aconteceu de forma muito gradual. Isto aconteceu em seis semanas. A morte do ex-secretário-geral Hu Yaobang levou centenas de estudantes à Praça de Tiananmen para velar o corpo. Isso foi num sábado. No domingo, continuavam lá. O corpo permaneceu lá durante sete dias. Na China, isto nunca aconteceria hoje em dia. As autoridades nunca permitiriam que tanta gente se reunisse e sentasse num espaço tão sensível durante tanto tempo. Ficou claro que se estava a passar qualquer coisa de muito invulgar. Nas seis semanas seguintes, o nosso método mudou completamente. Antes víamos os jornais e as televisões oficiais, e tentávamos perceber o que se estava a passar, que novas reformas estavam a ter lugar, quais eram as alterações na liderança. Mas durante essas seis semanas não fizemos nada disso. Passávamos o dia inteiro na rua, na praça, nas universidades, nas estações de comboio. A maioria da população é bastante cuidadosa no que diz, especialmente a alguém estrangeiro e mais com os jornalistas. Durante essas seis semanas, isso mudou. Podia questionar-se qualquer pessoa sobre qualquer assunto. O que achavam do partido, dos estudantes. Foi um período extraordinário, mas era muito difícil para nós perceber o que se estava a passar. À medida que os dias passaram, percebemos que era uma guerra de poder entre duas fações do Governo e esse era o motivo pelo qual o Governo estava paralisado. Foi isso que permitiu aos estudantes permanecer na praça.
– Os alunos estavam conscientes dessa guerra de poder dentro do partido?
M.O. – Não. Acho que não. Eram muito novos, muito idealistas. Reclamavam contra a corrupção, por um Governo mais eficaz, preços mais baratos. Denunciaram assuntos bastante importantes. O protesto deles acabou por se tornar uma ferramenta nesta guerra de poder. Não nos apercebemos disso no início, mas depois de algumas semanas e de entrevistarmos várias pessoas, demo-nos conta. Entretanto, foi declarada a Lei Marcial, o que significava que o Exército sairia à rua. Na altura, o secretário-geral do Partido Zhao Ziyang, veio à praça por volta das quatro e meia da manhã, e disse aos estudantes: “Desculpem. Vim demasiado tarde”. Mas o que ele queria dizer era: “Perdi a luta de poder. Por favor, abandonem a praça”. A partir daí, apercebemo-nos do que ia acontecer. Quem me dera que os estudantes tivessem abandonado a praça nessa altura porque teriam conseguido o que queriam. Foram notícia em todo o lado, fizeram primeiras páginas pelo mundo inteiro, toda a gente os ouviu. Tinham sido bem-sucedidos. Deviam ter percebido que a entrada em vigor da Lei Marcial implicaria que o Exército iria para o local. Deveriam ter deixado o local, mas infelizmente não o fizeram.
– Nessa altura deixou a China e voltou anos depois em 1993. Quão diferente estava Pequim?
M.O. – Tive bastante sorte porque, depois dos protestos de 4 de junho, começou aquilo a que chamámos de inverno. O Governo tornou-se bastante duro e a vida foi bastante dificultada para os jornalistas. Ninguém queria falar connosco. Os media eram bastante censurados e era muito complicado entender o que se estava a passar. Felizmente, estava no Japão onde fiquei quase quatro anos. Voltei, após a famosa visita ao sul de Deng Xiaoping em 1992, na altura em que as reformas económicas, que estiveram estagnadas durante três anos, estavam a ser retomadas.
– Voltou numa altura que podemos designar de primavera, em termos de reformas económicas?
M.O. – Para nós foi muito melhor porque havia muitas coisas a acontecer. Foi um período muito mais interessante com muitas experiências a ser implementadas, mais investimento estrangeiro. Tive sorte pois não estive em Pequim durante esse período negativo e quando voltei, o tempo melhorou significativamente.
– Ficou até 2006, quando escreve o primeiro livro, apesar de continuar a ser jornalista. E já escreveu oito livros sobre a história da China.
M.O. – Tenho de agradecer a Deus ou a alguém porque, em 2006, fui convidado para escrever um livro sobre a fundação taiwanesa Tzu Chi (organização budista com fins humanitários e missões espalhadas pelo mundo) baseada na cidade de Hualien onde conheci a fundadora, a monja Cheng Yen. Fiquei bastante impressionado com ela e com os seus seguidores, e aceitei imediatamente o desafio de escrever o livro. Suspendi a colaboração com o jornal (South China Morning Post) para o qual trabalhava e passei um ano a escrever o livro. Foi bastante fácil de escrever porque foram extremamente cooperantes. Era fácil fazer entrevistas, pagaram-me para ir à África do Sul, Califórnia, Indonésia para conhecer os projetos deles noutros países. Foi assim que começou a minha carreira de escritor. E uma vez que na China continental estamos limitados no acesso à informação fazia sentido para nós mudarmo-nos de Xangai para Hong Kong.
– Há pormenores bem interessantes relativamente o seu segundo livro, “The Life of My Missionary Grandfather in Manchuria”.
M.O. – É sobre o meu avô, que foi missionário na Província de Yuan, durante 45 anos, de 1897 a 1942. Foi uma grande experiência porque, em 1986, visitámos a sua cidade-natal pela primeira vez. Visitámos a igreja, o mosteiro e os membros da congregação. Fiquei estupefacto por constatar que ainda havia muitas coisas, como a igreja. Encontrámos testemunhos, bastante detalhados sobre o tempo que viveu lá. Por isso, e de novo, não foi um livro difícil de escrever porque ele registou tudo. Limitámo-nos a copiar o trabalho dele e o que tinha escrito, e compilámos tudo num formato que fosse fácil de ler. Publicámos o livro em chinês tradicional e simplificado. Vendemos uma série de cópias no Continente. Recebi emails de pessoas que tinham lido o livro. Inicialmente, as autoridades queriam demolir a igreja. Mas por causa do nosso livro, académicos e outras pessoas interessaram-se e têm preservado a igreja.
– Continuou a escrever vários livros sobre a história chinesa. Fale-nos sobre mudança de jornalista para escritor de livros sobre a China.
M.O. – Não é difícil porque enquanto jornalistas temos todas as competências necessárias. O trabalho principal continua a passar por fazer entrevistas, investigação, comprovar os factos. A diferença é que eu escrevo um livro, enquanto os jornalistas fazem notícias. A transição não foi assim tão difícil. Também vivemos e trabalhámos na China durante muito tempo. Já tínhamos muito background. A história da China é extremamente rica, as pessoas são extraordinárias. Podíamos escrever livros durante séculos. Por isso, foi bastante fácil encontrar temas que considerasse interessantes.
– Gostava que nos contasse um pouco a história do livro “The Miraculous History of China’s Two Palace Museums”, porque tem um significado especial.
M.O. – Tenho de agradecer esse tema ao editor da Macao Magazine, Gonçalo César de Sá, porque me pediu para fazer uma história sobre o Palácio Nacional em Taipé. Consegui uma entrevista com a diretora. Uma senhora extremamente elegante. Perguntei-lhe se no museu havia peças que tinham vindo de Pequim. Explicou-me que tinham deixado o museu em 1933, para evitar que fossem capturadas pelos japoneses. As peças percorreram a China continental ao longo de 16 anos e chegaram a Taiwan em finais de 1948, inícios de 1949, tendo sido colocadas neste novo museu, que está no norte de Taipé. A história pareceu-me completamente fascinante porque, entre 1933 e 1949, no Continente viveu-se um período de caos, mas as peças não foram roubadas, danificadas ou desapareceram, como me contou a diretora. Não queria acreditar e perguntei-lhe como tinha sido possível, ao que ela respondeu que tinha sido um milagre de Deus. E foi por isso que escolhi esse título para o livro.
– O seu último livro é sobre um tema diferente: as relações entre China e Israel e a presença dos judeus na China.
M.O. – Na Dinastia Tang, a China era um dos países mais ricos do mundo e muitos estrangeiros vieram viver para o país, tal como acontece agora. Na altura, estabeleceu-se uma comunidade judaica. Foi o início da presença judaica. Depois da Guerra do Ópio, quando foi permitido aos estrangeiros voltarem à China, havia uma comunidade judaica considerável em Xangai, Harbin, Hong Kong. E desde aí tem havido uma presença judaica contínua. A história destas pessoas é bastante marcante e o que é mais significativo é que tanto a China como o Japão têm sido bastante recetivos a estas pessoas. Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 30 mil judeus vindos da Alemanha, Áustria, de diferentes partes da Europa de Leste, encontraram refúgio em Xangai. Os nazis exigiram aos japoneses que que controlavam Xangai que os exterminassem, mas os japoneses recusaram-se a fazê-lo porque tinham os judeus em grande conta, uma vez que os consideravam um povo produtivo eficiente e avançado. Tendo pessoas assim no país, acabam por gerar riqueza e desenvolver a economia.
– Que novos projetos estão na calha?
M.O. – Tenho mais dois livros em preparação sobre a história da China.
José Carlos Matias-Entrevista ao programa TDM Talk Show 23.02.2018